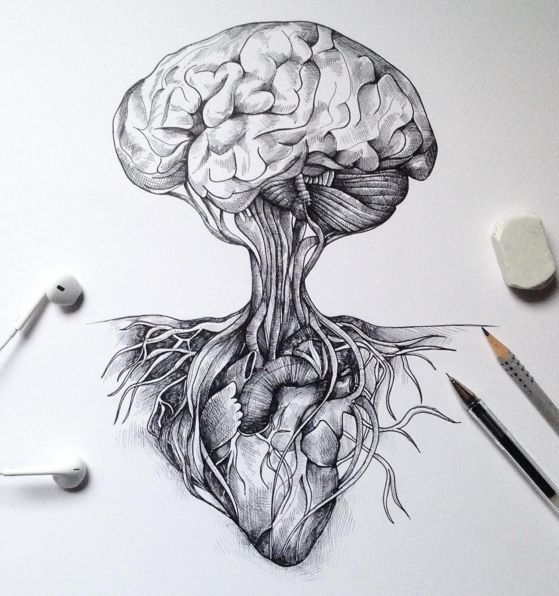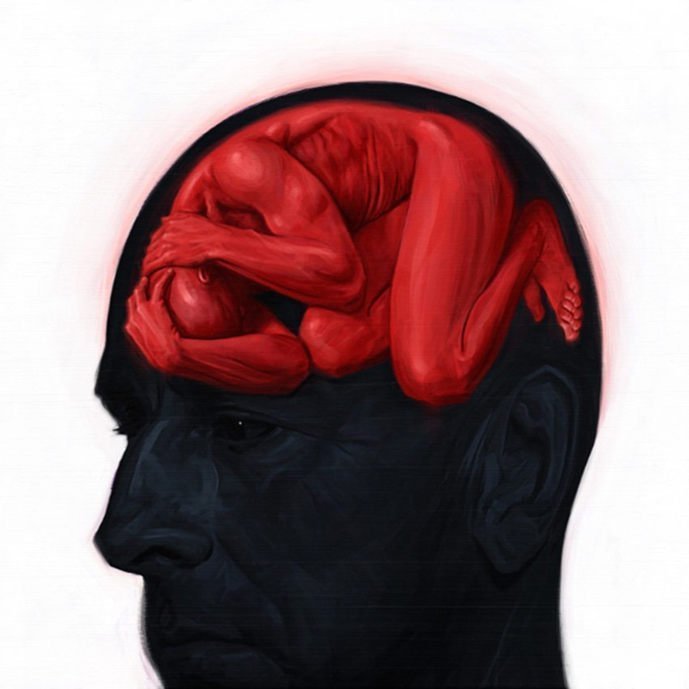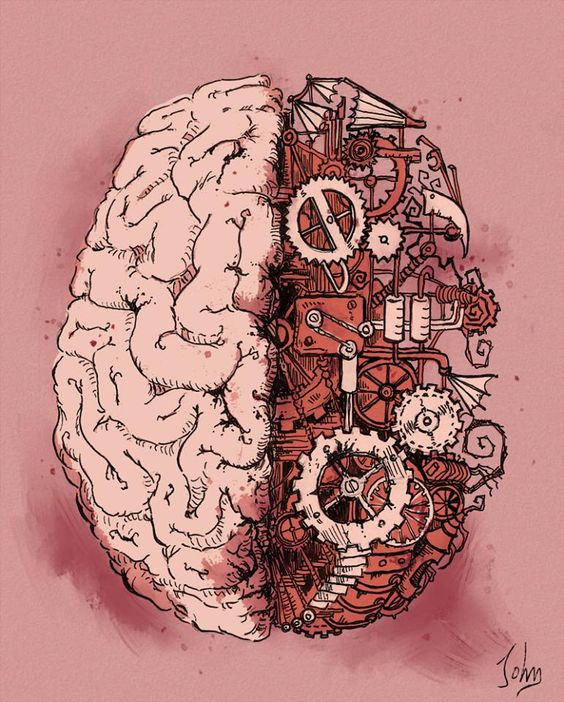(To read the article in english, click here).
«Um ano antes, no seu último aniversário, tinha-lhe escrito: “A maior parte das pessoas tem o azar de ser constantemente vítima de simpatia. Toda a gente as elogia, surgindo as críticas na sua ausência. Tu alcançaste algo muito mais grandioso: as críticas pela frente são tão constantes quanto os elogios por trás. Isso é talvez o mais que um Homem pode querer: ser constantemente confrontado com a sua sombra, deixar sempre a sua luz”.»
1. Alhos Vedros
Eram cerca das duas da manhã. Eu e um amigo, o Jonina, passeávamos nas ruas atrás da Velhinha, uma coletividade. Num certo momento, ouvimos uma voz que parecia dirigir-se-nos e vimos um vulto aproximar-se. “Foram vocês que me roubaram a roupa do estendal?”. “Não”. Era o Rato. Conhecia-o de vista. Conhecia melhor um dos irmãos, que cumprimentava quando via. O Silvestre. Com este nunca tinha falado e ele não me conhecia. Não acreditei na história de lhe terem roubado roupa do estendal. Pareceu-me alterado por droga ou álcool e estar à procura de confusão. Explicou a história umas dez vezes. Que estava em casa e o foram avisar de que lhe tinham roubado a roupa e viram dois gajos a vir nesta direção. “Pois, nós não fomos, como podes ver por não termos a tua roupa”.
Eu tinha cerca de 20 anos. A postura dele, tresloucada e imprevisível, estava a desassossegar-me. A certa altura, uma espécie de raiva começou a crescer nele:
– É que eu fui campeão de boxe, percebes? O gajo que tenha feito isto, eu parto-o o todo.
Pegou no nariz e torceu-o, de forma a que ficasse espalmado contra o osso da bochecha.
– Vês? Eu não tenho cana do nariz. Parti-a em combate.
A esta altura já falava bem perto da minha cara. Dirigia-se principalmente a mim. Lembro-me de sentir nojo dos gafanhotos dele. Continuava, com uma raiva crescente não sei de quê, e duvido que ele soubesse:
– Eu não ando aqui a brincar, percebes? O gajo que se meta comigo eu não tenho problemas em parti-lo todo. E também tenho uma faca aqui e se for preciso abro-o o todo.
Sacou da faca. Se bem me lembro, era uma borboleta, daquelas com as quais dá para fazer truques, abrindo-a e fechando-a rapidamente. Ele mostrou os seus skills na manipulação da arma. “Comigo ninguém se mete!”.
Neste momento, senti nos seus olhos que a sua perceção da realidade passara a outro nível. Parecia que eu e o meu amigo, enquanto humanos que cruzaram o seu caminho, eramos para ele não mais que representantes de um mundo hostil e que merecia pagar por toda a roupa, real e metafórica, que lhe fora alguma vez roubada do estendal. O perigo da situação parecia escalar e eu precisava de fazer alguma coisa. O Jonina estava ao meu lado. Não olhávamos um para o outro há muito tempo. Sentia-o tão assustado como eu. Pensei em lutar. Éramos dois. Mas não me pareceu boa ideia. Primeiro, porque talvez tivesse mesmo sido campeão em boxe. Segundo e principalmente, porque carregava consigo a sua faca e a sua aparente loucura, duas armas perigosas. Enquanto eu pensava isto e procurava uma solução para um problema que se agigantava, já ele tinha saltado para uma simulação de luta. “Se me quiseres acertar, eu faço assim”, e fazia movimentos rápidos com a cabeça entre os punhos, esquivando-se de golpes invisíveis, antes de devolver um murro que passava perto da minha cara. “Depois, basta dar-te assim e estás arrumado”. Aí, trouxe a mão até á minha cara e encostou-a. Era uma simulação, mas não foi tão devagar como devia ter sido. Não parecendo que queria aleijar, queria, como quis a noite toda, assustar. Talvez testar, causar e medir uma reação. Foi nesse momento que uma possível solução se fez palavra, sem o passo intermédio de se calcular na minha mente. Olhei para ele e perguntei-lhe, num tom pacífico, não como uma ameaça, mas como se ele devesse saber e não se lembrasse:
– Tu sabes quem eu sou?
Ele ficou confuso. Parou por um momento. Notei que num primeiro momento ponderou conhecer-me. Mas essa sensação foi substituída pelo confronto. Quando respondeu “não, e tu sabes quem eu sou?”, vi-lhe a raiva a voltar-lhe aos olhos.
Eu não sabia o nome dele. Sabia que era conhecido por Rato. Então, disse: “sei, és irmão do Silvestre. Mas tu sabes quem eu sou ou não?”. Ele pareceu surpreso com o facto de eu saber quem ele era.
– Quem é que tu és?
– Sou neto do Leonel Coelho.
Os olhos do Rato esbugalharam lentamente. As suas sobrancelhas inclinaram-se na direção da tristeza, como se pedisse desculpas silenciosas, como os cães fazem. “Tu és neto do Coelho??”. Veio direito a mim e deu-me um abraço apertado. “já podias ter dito!”. Depois disso, toda a dinâmica mudou. Ele continuou o protagonista, mas desta vez contando histórias do meu avô. De como chegou a tomar conta dele quando ele era bebé, de como na sua adolescência o levava para colar cartazes e para o ajudar a apanhar azeitona. “O teu avô é como um pai, eu amo o Leonel”. Quando finalmente conseguimos libertar-nos do Rato, ele deu um abraço a cada um e mandou outro ao meu avô.
── ✧ ──
2. Academia
As palavras raramente são suficientes para descrever o que quer que seja. Só percebendo isso alguém se pode tornar um bom escritor. Por isso precisamos de histórias. Para descrever, por exemplo, o que a história anterior tenta descrever – a marca que o meu avô deixou localmente –, “fama” ou “influência” não chegam. Há conhecimento, reconhecimento, respeito, inveja, amor, ódio, tudo misturado num espírito que existia e permanece. E não é por acaso: em nada do que fez o meu avô foi normal. Era original. Espontâneo. Preferiu sempre desbravar mato a pisar pegadas alheias. A sua posição como mestre multigeracional deveu-se muito ao facto de ser treinador de Ping-Pong de muita gente, durante muitos anos. Ou teve isso como justificação, visto que ele próprio dizia que o que menos lhe importava era se jogávamos bem ou não. Nunca quis formar jogadores, ou pelo menos nunca foi essa a sua prioridade, e, se a academia mostrou resultados surpreendentes, chegando à primeira divisão, tornando-se a equipa do distrito com melhor palmarés e derrubando, por pura diversão, equipas que treinavam a sério, foi por acidente iluminado: o desporto, para os atletas da academia, sempre foi uma brincadeira, uma diversão. E o significado de brincadeira – em inglês o verbo to play significa jogar, brincar e tocar (um instrumento) – é não ter um objetivo para além de si próprio. Jogamos por jogar, brincamos por brincar, tocamos por tocar, pelo prazer de jogar, de brincar ou de tocar. A música é a melhor metáfora: o objetivo da música é a própria música, não é chegar á última nota.
Eu via as outras equipas com equipamentos, com horários para dormir e acordar, com dietas e treinos diários. Nós treinávamos enquanto os treinadores estavam na sala. Assim que saíam para a outra divisão, montávamos as trincheiras. Uma equipa de cada lado dos separadores, cada uma com uma mesa onde antes jogava e que agora servia de defesa, e o objetivo passava a ser acertar com uma bojarda na cara, na perna ou no braço de alguém do outro lado. A alegria de um era a dor do outro. Quando se ouvia aquele estalo que a bola de Ping-Pong faz ao bater com força na pele, sabíamos que um círculo roxo ia aparecer. A vítima tornava-se imediatamente um soldado mais perigoso, transformando a dor em raiva. Apesar de sermos crianças, lágrimas eram raras. Só quando uma bola ocasional acertava na cara de algum. Lembro-me de uma na testa, atirada a um metro de distância. Um corajoso aproximou-se do separador para apanhar uma bola. O adversário, ao ver, preparou a armadilha, aproximando-se do lado contrário do separador, agachado, com uma bola numa mão e a raquete na outra, à espera que a cabeça do adversário espreitasse. Quando esta surgiu, pum. Toda a gente parou, á espera da reação, enquanto o alvo se deitou no chão agarrado à cara. Era o tipo de tiro que acabava com o jogo. Não me lembro do que aconteceu depois, mas é capaz de ter havido porrada, choro ou ambos.
Até que se ouviam passos que indicavam o regresso de um adulto. Se fosse o meu avô, tudo bem. No máximo, ria. Era o único adulto que não se importava. Percebia-nos, porque era também ele uma criança. Porque sabia que aquela diversão era tão ou mais importante que o que era “suposto” estarmos a fazer. Não era crítico dos alunos que não prestavam atenção às aulas, mas da escola que não sabia cativar os alunos. “Os alunos deviam ser pagos para estudar. É um martírio.” Se fosse outro adulto a encaminhar-se para a sala – e isso sabia-se pelo barulho dos passos –, fingíamos rapidamente estar ainda a treinar. No fim, arrumávamos as mesas e passávamos a última meia hora a jogar á bola, 3 para 3 – o que também resultava em porrada com frequência.
Imaginem o que era, para equipas a sério, com fatos de treino a condizer, borrachas coladas a cada meia hora e carrinhas com o símbolo do clube, enfrentar-nos. Pior: imaginem o que era, para essas equipas, perder connosco. Uma equipa de arruaceiros treinada por aquele que era, por um lado, provavelmente o treinador mais antigo em Portugal e, por outro, o único que chumbou no curso de treinador – não por falta de capacidades, mas porque discordava de quase tudo – o que lhe permitiu ser o primeiro treinador honorário. Éramos temidos porque eramos destemidos. Não tínhamos medo de perder, nem grande interesse em ganhar, a não ser que o jogo começasse a ser interessante e quiséssemos mesmo ganhar aquele jogo. E, nesses casos, normalmente ganhávamos. Chegámos a ganhar a todos os campeões da nossa divisão. Eu cheguei a ganhar ao Mouricato, um dos melhores da minha geração. Para ele, para o seu treinador e para os seus colegas de equipa, foi o fim do mundo. Estragou-lhes o dia. Para mim, foi a hora de fazer o caminho de volta, a parte mais interessante depois do caminho de ida. Riamos mais do quão divertido foi ver a cara deles depois da derrota do que da nossa vitória em si.
O meu avô passava, á primeira vista, um ar agressivo, autoritário, impaciente. Falava alto, dizia muitos palavrões, refilava com tudo e mandava muita gente à merda. Algumas mães e alguns pais não suportavam a sua postura para com os seus filhos, o que é compreensível, porque ninguém está preparado para, indo ver o filho de dez ou doze anos participar num torneio pela primeira vez, ouvir o treinador velho a chamar-lhe, aos berros, monte de merda, pulhazito, badameco, burro ou, não raramente, soltar a plenos pulmões, enquanto batia nas próprias pernas já no auge da sua impaciência, um “flete as pernas, filho da puta!”. Até a mim me chamava filho da puta. E a minha mãe é filha dele. Chegou a dizer, a um miúdo de dez anos que jogava o seu primeiro torneio, na pausa entre sets, em que o treinador dava indicações, que o miúdo, ou ganhava aquele jogo, ou devia considerar terminar a sua carreira ali. Era proibido falar durante os jogos. Não havia ponto em que não gritasse. Ou era expulso todos os jogos, ou as regras se dobravam. As regras dobravam-se, claro, e ele só era expulso quando o treinador adversário, irritado, começava a gritar também, mas com ele.
Mas isso, o humor rezingão, era superficial. Nunca vi ninguém com um carácter mais longínquo do rancor, da verdadeira zanga, do ressentimento. Muita gente se zangava com o meu avô, mas eu nunca vi o meu avô zangado com ninguém para lá da conversa que gerou a zanga. Na ocasião seguinte, aparecia com o seu sorriso, meio terno, meio irónico – que provocador era – a encorajar as pazes. E o outro, sempre mais zangado, lá aceitava a bandeira branca até a próxima provocaçãozinha trazer de volta a irritação.
Mas os seus gestos de amor, esses não eram superficiais. Eram profundos, genuínos. Lágrimas escapavam-lhe dos olhos com facilidade, e ele tinha a coragem de não as tentar conter. A vida emocionava-o. Enquanto treinador e supervisor, não se metia em zangas ou porradas. “Às vezes a amizade só precisa de uma boa zaragata”. Mas se via um miúdo a ser maltratado ou gozado pelo grupo, intervinha. Mas intervinha de forma inteligente. Uma vez, notando que um miúdo estava a ser posto de parte, sendo vítima de gozo e humilhação, aproximou-se do grupo na ausência do tal miúdo, e disse: “tive uma ideia. O João é uma merda, não é? Porque é que não o matamos e abandonamos numa vala qualquer?”. O grupo ficou silencioso. “Não gostavam que isso acontecesse, pois não? Porque vocês gostam do João. Então não o tratem como se não gostassem.” A partir desse dia, ninguém maltratou o João, que, não sabendo da conversa, deve ter ficado confuso com o aparente milagre. A quantidade de vezes que o meu avô foi pai. A quantidade de pais que ficaram gratos pelo papel que o meu avô teve na vida dos filhos. “Ninguém me agradeceu por formar um bom atleta, mas já muitos me agradeceram por formar um bom Homem”.
Mas, voltando à vida em torno do ping-pong, nem treinos, nem jogos, nem combates, nem futebol competiam com as viagens para os jogos ou os torneios. Nada era mais empolgante do que o caminho. Quanto mais longe fosse o destino, melhor. A condição era não haver outros adultos no carro, o que nos faria ser mais controlados. Se fôssemos só com o meu avô, é inexplicável a liberdade que sentíamos na mítica Vanette. Gritávamos para as pessoas na rua. Só não eram permitidas faltas de respeito, como comentários racistas ou que tivessem o intuito de humilhar. De resto, tínhamos livre passe. O meu avô só conduzia, ria e participava com comentários. Era sempre refilão, e não há maior oportunidade para um refilão que o trânsito. E os comentários dele, para nós, crianças pré-adolescentes, eram hilariantes. Lembro-me de um rapaz com um ar armado, a andar á gangster enquanto passava a passadeira lentamente. O meu avô, que ia sempre com a janela aberta, esticou a cabeça.
– Queres acampar aí, não?
Mas os comentários do meu avô eram tão automáticos que podiam ser pérolas criativas ou não fazer sentido nenhum. Uma vez, a um gajo que buzinou, mandou-o “levar dentro da picha”.
Também mandávamos cascas de banana. Papéis ou prata não podíamos, porque poluía. Então tinha que ser cascas de banana ou de laranja. O David chegou a levar 7 ou 8 bananas para um torneio para ter mais cascas para mandar. Nós, os restantes, tivemos reações contraditórias. Gozámos com ele por levar 8 bananas, mas queríamos que partilhasse as cascas connosco. Às vezes, íamos no porta-bagagens, que era enorme, sentados em baldes virados ao contrário, passando a catana do meu avô no próprio pescoço enquanto olhávamos ameaçadoramente para os passageiros do carro que vinha atrás. O ar ameaçador durava pouco, porque não aguentávamos muito tempo sem rir.
O interesse, claro, eram as reações. E as reações eram imprevisíveis. Dos transeuntes que ouviam comentários, muitos ignoravam, ou olhavam só, não tendo tempo de reagir à carrinha em movimento. Dos passageiros dos carros que vinham atrás, podíamos ter como retorno risos ou expressões de choque por nos ver a manejar uma catana. O que nós queríamos era uma certa dose de irritação, de raiva. Era aí que riamos mais, era aí que sabíamos que tínhamos pressionado o interruptor emocional no sítio certo. Se alguém, depois de levar com uma casca de banana – ou de a ver passar-lhe ao lado, porque a maioria falhava o alvo –, nos mandasse para o caralho ou fizesse um pirete, era vitória, celebração e risada. Às vezes, quando a carrinha se via obrigada a parar num semáforo logo a seguir a um comentário, baixávamo-nos, ficando as costas onde estava o rabo e a cabeça onde estavam as costas, com risos nervosos, espreitando para ver se a pessoa estava a olhar. Uma vez, eu mandei algo pela janela, de forma a cair no vidro do carro de trás. Penso que uma prata, quebrando a regra da biodegradabilidade. O carro, movido pela raiva do condutor, acelerou de imediato, ultrapassando-nos. O meu coração também acelerou. Ele parou á nossa frente, travando a fundo e obrigando o meu avô a parar no meio da estrada, e saiu do carro. Era raiva a sério. Enquanto eu fechava rapidamente a janela esquerda do banco de trás, rodando a manivela perra, o meu avô recostou-se e disse-me: “agora amanha-te”. Não olhou para o homem e o homem não olhou para ele. Veio diretamente á minha janela, com os olhos enfurecidos, e bateu no vidro duas ou três vezes: “se os teus pais não te dão uma tareia, dou-te eu, estás a ouvir?”. Eu olhava em frente, estático, á espera que ele desaparecesse. Depois de descarregar as suas frustrações, foi á janela do meu avô. Mas á janela do meu avô poucos tinham hipóteses.
– E você, não sabe controlar os miúdos?
– Já fez o que tinha a fazer. A mim não me chateie a cabeça e siga o seu caminho.
Ele seguiu.
Penso que a academia foi o local mais importante do meu desenvolvimento social. No ping-pong, na feira do livro, onde competíamos para ver quem vendia mais e onde comprei o primeiro livro que li, ou simplesmente em passeios ao tanque do meu avô, que tratávamos como se fosse uma piscina. Tendo sido uma criança calada, reservada, introvertida, ali expus-me, mais do que noutro sítio qualquer, a um ambiente social livre e coeso. A um grupo de rapazes num estado quase selvagem, guiado por uma figura que pouco interferia, mas que interferia bem, influenciando-nos da melhor forma, chamando-nos a atenção para aquilo que podíamos fazer de bom, marcando a diferença. Formou homens competentes deixando-os aprender por si, formou homens bons orientando-lhes a atenção para o que importava. O poema “diz-lhe ao menos bom dia” espelha bem a sua intervenção junto dos seus pupilos. O simples entrava sempre: não sabemos das dores dos outros, não sabemos as suas histórias. Mas sabemos que a nossa roupa, a nossa casa e os nossos telemóveis foram feitos por alguém. Sabemos que alguém compôs a música que ouvimos, escreveu os livros que lemos e os filmes que vemos, e que alguém descobriu os medicamentos que nos curam de doenças. Cada ser humano é uma parte. Trata-o bem. Sê simpático. Sê bom. Toma atenção. E, no mínimo, diz-lhe bom dia.
O meu grupo de amigos principal, em Alhos Vedros, não se criou na escola. Das escolas por onde passei, guardo de todas uma grande minoria. Um ou dois de cada turma, no máximo. Do grupo da Academia, de quem jogou comigo, guardo a grande maioria. Farinha, Jonina, Cami, Besouro, Edgar, David, Galamba, Leandro. Todos ainda meus amigos. Não sei quantos deles se aperceberam de que foi ali, na Academia, que nos juntámos. Mas sei que todos estiveram presentes no velório ou no funeral do meu avô. Não por mim, ou não só por mim. Mas por ele, o meu avô. Pelo Coelho.
── ✧ ──
3. Histórias
Estava na barbearia do Hugo quando entra o professor Carlos. A barbearia do Hugo era uma barbearia tradicional, onde homens se juntavam para conversar das coisas não faladas à frente das mulheres. O professor Carlos, que eu conhecia e foi professor na minha escola, apesar de nunca ter sido meu professor, não entrou para cortar o cabelo, mas para se juntar ao grupo de cinco ou seis que lá conversavam. Vendo-me, falou imediatamente do meu avô.

– Vou-te contar uma que não deves saber – falava para mim, mas para que todos ouvissem. – Houve uma conferência de médicos em Lisboa, num hotel. O teu avô, sabes como ele se veste, com roupa de andar no campo. Nesse dia, apareceu lá de fatinho. Todos pensaram que era médico. A conferência aconteceu, normalmente. No fim, a mesa perguntou se alguém do público queria pedir a palavra. Quem levanta o braço? Claro, o Leonel Coelho. Com o seu grande poder oratório, começou a discursar sobre o estado do sistema nacional de saúde. No fim, toda a sala se levantou. Foi aplaudido de pé. Imaginas isto? Ninguém mais faria isto. Um gajo que não é médico infiltra-se numa conferência de médicos e acaba aplaudido de pé.
Se houvesse sítio onde conhecessem o meu avô, era certo que iria ouvir uma história nova. Mesmo no fim foi assim. No velório. Ao fim da manhã, depois de ter ouvido o José Ribeiro, da funerária, dizer que ia comer uma bifana, liguei-lhe, à procura de almoço, para perguntar onde havia as tais bifanas.
– Estou no Quebramar. Está fechado, mas deixa ver… olha lá, arranjas almoço para o neto do Leonel? – Ouvi um “claro” à distância. – Bate à porta quando chegares.
Quando cheguei, bati à porta. Um homem, que não conhecia, abriu. Estendeu-me a mão.
– És o neto do Leonel, não é?
Acenei que sim, enquanto lhe apertava a mão.
– Eu era muito amigo dele. Gostava muito dele.
Nesta altura, começou a chorar. Abracei-o. Era o Nato. Desde aí, ficámos amigos. Nas duas horas seguintes, fiquei a comer e a beber com ele, o José Ribeiro e mais dois ou três desconhecidos que, à vez, contavam histórias do meu avô.
Era uma constante. Mas havia as histórias recorrentes. Aquelas que ouvi várias vezes e que gostava, e gosto, de ouvir várias vezes, porque mostram a singularidade do meu avô. Numa delas, que o Manel, presidente da Academia, meu grande amigo e companheiro de jantares e discussões, gosta de contar, iam para a Ortiga, terra do meu avô, quando ele (o meu avô) percebeu que não tinha os documentos do carro. Entre todas as possibilidades de ação que surgem da realização desta lacuna, surgiu-lhe a mais original que posso imaginar: “Vou à polícia”.
– Olhe, senhor agente, eu vim à terra e apercebi-me de que não tenho documentos. Vim-me entregar de livre e espontânea vontade. Mas eu tenho que sair daqui, seja para seguir em frente ou para voltar para trás. Tenho que conduzir sem documentos. Portanto, façam alguma coisa, arranjem uma solução.
“Se vocês vissem a cara dos polícias”, diz o Manel, “completamente desorientados, sem fazer a mínima ideia do que fazer.” Estavam apáticos, perdidos. Ligavam a superiores, olhavam uns para os outros. Não havia protocolo para isto.
– Passem-me uma guia, qualquer coisa! – dizia o meu avô.
Nada. Depois de um tempo à conversa, foram embora sem solução.
Mas há várias com polícias. O meu avô era um mestre a lidar com polícias. Numa, estava à pesca num sítio onde era proibido pescar, quando viu um polícia a aproximar-se do carro, que estava estacionado num descampado ali ao lado. O polícia agarrou num papel e começou a anotar a matrícula. O meu avô, à distância, dirigiu-se-lhe:
– É proibido estacionar aí?
O polícia, confuso, retaliou, ignorando a pergunta:
– Não sabe que é proibido pescar nesta zona?
– E o carro está à pesca?
– Não, mas o senhor está.
– Então porque é que está a apontar a matrícula do carro?
Depois disto, só sei como a conversa terminou: com o meu avô a insistir: “Não, agora multe-me! Não me queria multar? Multe-me!”, enquanto o polícia, desesperado, tentava sair dali em paz. Conseguiu escapar à multa, sendo o polícia a sentir-se a escapar à multa.
Noutra ocasião, numa história também contada pelo Manel, ia a equipa de ping-pong a caminho de um torneio quando se depara com uma operação stop. Enquanto procurava os documentos, que haviam de estar algures escondidos num monte de papeis de dez centímetros de espessura, dizia ao polícia:
– Olhe, veja o que tem a ver, mas por favor seja rápido, que os miúdos têm torneio e já estamos atrasados.
O polícia, confrontado com a pressa, adotou uma postura contrária ao solicitado. Querendo aparentemente mostrar quem manda, começou a demorar propositadamente, empatando o tempo com perguntas desnecessárias e não mostrando a mais pequena urgência. Uns minutos passaram-se. O meu avô olha para o relógio. Depois, olha para trás, na direção de um dos atletas, aquele que iria jogar primeiro:
– Olha, tu… já não jogas.
Depois, passando o monte de papeis de dez centímetros de espessura para as mãos do polícia, e com ela a tarefa de procurar os documentos, disse, com o seu olhar típico, de olhos semicerrados e boca torta:
– Olhe, já perdemos por falta de comparência, portanto acabaram-se as pressas. Tenho todo o tempo do mundo. Agora, é devagaaaar.
── ✧ ──
4. Amigo
A minha relação com o meu avô era tão única como ele. Na minha idade adulta, já não parecia uma relação entre avô e neto, mas uma relação entre amigos de idades diferentes. Falávamos de tudo. Ele falava das suas namoradas do passado, dos seus sentimentos, do que sentia pela minha avó, do que sentia pela morte da minha avó, do que sentia pelo meu irmão e pela sua morte aos três anos de idade. Às vezes chorava. Contava-me os seus sonhos. Eu falava-lhe dos meus amores, quando ele perguntava. Eu mostrava-lhe músicas e ele comentava, ele mostrava-me músicas e eu comentava. Era das únicas pessoas que conheci com a capacidade de dar atenção plena a algo novo. A maioria das pessoas, quando se lhe mostra uma música, ouve vinte ou trinta segundos, comenta algo e começa simplesmente a falar, deixando de ouvir. Ele não. Ele focava-se do início ao fim. Quando a música acabava, comentava. O positivo e o negativo. E sempre algo útil e original – isto, quando a música era minha, quando a sua visão podia ser útil. Quando escrevia um poema novo, lia para mim ou pedia-me que lesse para ele. Espantava-me sempre, e encorajava-me sempre, a cada poema, que um cérebro com mais de oitenta anos pudesse ter aquela criatividade, aquela capacidade de produzir algo tão simples e tão novo; tão fresco. Quando eu escrevia algo, entregava-lhe o trabalho impresso e ele lia, tomando o seu tempo, tirando notas, o que resultava numa conversa longa sobre aquela criação.
Viajávamos muito juntos, passeando por Portugal. Discutíamos frequentemente, gritávamos um com o outro. Principalmente no carro, enquanto eu via o caminho no GPS e ele estava convencido de que havia outro melhor. Mesmo que eu tivesse razão, nunca a tinha. No máximo, havia um silencio ou uma mudança de conversa, o que era equivalente a uma admissão implícita. “Eu sei que já percebeste que não tinhas razão, não precisas de dizer”, dizia eu em tom provocador. Numa das últimas viagens que fizemos, chateámo-nos “a sério”. “Eu nunca mais venho contigo a não ser que seja eu a conduzir!”, dizia ele. “Tu és burro, mas eu vou conduzir calado e quando tu perceberes que o parque é onde estou a dizer, logo te respondo”, dizia eu. Fomos calados nos cinco minutos seguintes, até que apareceu o parque. Eu não disse nada. A minha mãe ligou-lhe assim que saímos do carro.
– Parámos agora. Vamos almoçar aqui num parque uma refeição surpresa que eu preparei. Já houve uma queziliazita, mas também faz parte.
Riamos e estava arrumada a discussão. Almoçávamos, bebíamos um copo de vinho e fumávamos um cigarro. De vez em quando, jogávamos uma malha. Mesmo na nossa última viagem, em que ele estava visivelmente debilitado, magro, custando-lhe a baixar, ganhou-me.
Isto ilustra bem uma parte da nossa relação de amizade. Mas não era só. Há uma história que ilustra bem o à-vontade e a abertura da natureza da nossa relação. Tínhamos ido levar livros às editoras, um ritual que se seguia à feira do livro. No caminho, também houve discussão. Foi pouco depois da aparição do GPS nos telemóveis. Ele conhecia bem Lisboa, mas os caminhos estavam diferentes. Às vezes, queria que eu o usasse. Outras vezes, dizia que eu o desligasse. Eu deixava-o ligado, seguindo o caminho que ele indicava mas ficando atento ao caminho recomendado pelo GPS. Visto que as indicações (“saia na terceira saída”) eram dadas por uma voz feminina, o meu avô referia-se ao GPS como ela.
– Rafael, para de seguir isso! Eu estou mesmo a adivinhar que ela nos vai mandar para uma autoestrada só para pagarmos portagem!
– Não fales à toa. Eu pus para isto evitar portagens.
Ele encolhia os ombros e olhava para o outro lado.
Estávamos a caminho da editora Europa-América e, quando dou por mim, estamos na autoestrada. Assim que entramos, avista-se a portagem:
– Eu já sabia!
Eu ria-me.
Parei na portagem e abri a janela, rindo, depois de dizer ao meu avô para arranjar um euro. O meu avô pôs a mão ao bolso, virou-se para a mulher que estava de serviço, e disse-lhe:
– Estamos nós a ir para a Europa-América e esta gaja manda-nos para aqui para pagar portagem!
Ora, a mulher não deve saber que europa-américa é uma editora. Também não sabe, de certeza absoluta, que “esta gaja” é o GPS. Eu começo a rir de uma forma que me tirava todo o ar. Um expiro continuo quase desesperante. Uma incapacidade absoluta de falar ou sequer de respirar. Isto, porque me pus no lugar da mulher da portagem: «uma “gaja” invisível – se ele diz “esta” é porque eu devia estar a vê-la – mandou-os para a autoestrada enquanto eles se dirigiam a uma combinação de dois continentes, europa e américa. Isto são dois malucos de certeza». E quando tenho esta imagem na cabeça e começo a rir de uma forma que nunca ri antes, com baba a cair-me dos lábios, a imagem agigantou-se: agora é que é mesmo certo que ela pensa que somos malucos. O velho no lugar do morto diz que são dois gajos a viajar rumo à “europa-américa” e a receber instruções “desta gaja”. O novo no lugar do condutor está completamente incapacitado por um riso que nem eu nem o velho percebemos.
Mas isto não é a história ilustrativa que ia contar. Essa deu-se mais tarde, quando parámos para almoçar. Como disse, falávamos de tudo. Nessa altura, eu tinha andado a ler sobre a diferença entre chimpanzés e bonobos, os macacos mais próximos do humano geneticamente. Então, enquanto comíamos, falei-lhe sobre isso:
– Os chimpanzés vivem em comunidades completamente patriarcais, no sentido violento. O poder é decidido pela quantidade de machos que um macho consegue derrotar e pela quantidade de fêmeas que ele consegue violar. Há gangues e, se há um dissidente, chega a ser despedaçado. Os bonobos têm o oposto: não há violência, de todo. Resolvem tudo com sexo. Sexo entre todos. Homens com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, adultos com crianças. O sexo é uma ferramenta social que resolve qualquer problema. Sempre que há a mínima tensão ou sinal de conflito, sexo. Fica resolvido.
O meu avô olhava para o prato enquanto comia. Parecia distraído, o que não era habitual. Engoliu a garfada, fez um trejeito de boca, e mostrou que afinal não estava distraído, dizendo:
– Não me admira nada. Eu, sempre que estou um bocado mais irritado, bato uma punhetazita e fico logo mais calmo.
── ✧ ──
5. Avô
26 de setembro de 2021. Eu em Edimburgo, ele em Alhos Vedros. Ligou-me, como quase todos os dias. Não atendi. Liguei-lhe dez minutos depois: “ouve o som e adivinha onde estou. A jogar ping-pong”. Riu-se. “Ia-te dizer para veres o programa que está a dar na RTP2. Não podes perder isto”. “Está bem, vou ver quando chegar a casa.” 27 de setembro. A minha mãe diz-me: “o avô caiu duas vezes. O Manel ficou muito preocupado com o aspeto dele hoje”. Liguei-lhe. “Hoje isto não está bom para mim, Rafael. Caí na quinta do anjo. Se não estivesse lá a cerca para me ajudar a levantar, ficava lá”. “Mas caíste como? Porquê?”. “Porque estava de pé, Rafael”. “Mas tropeçaste, desequilibraste-te…?”. “O meu equilíbrio está nas últimas”. 28. Mal se levantava da cama. Quando lhe liguei, disse que não podia falar. O esforço era demasiado: estava a cozinhar uma pescada e estar de pé custava-lhe. “Leonel, se calhar é mesmo melhor ires ao hospital”, disse o meu pai quando lá foi. “Nem pensar! Eu estou bem. A cabeça está bem, os braços estão bem”. Foi preciso um estratagema: ligar ao Dr. Sampaio, que o meu avô respeitava. Entrou em casa de surpresa para o ver. O quadro não era bom: anemia grave, coração fraco, abdômen inchado. Escreveu uma carta para levar ao hospital. O meu avô concordou em ir. “Mas não ainda”.
Hemoglobina a três. “Se fosse eu ou a senhora”, disse o médico à minha mãe, “estávamos mortos”. O meu avô, porém, foi fazer uma pescada. A última. Transfusões de sangue para normalizar os níveis antes de testar o que quer que fosse, e assim se passaram dois dias. Marquei voo. Ia viajar no dia seguinte, terça-feira, às 7 da manhã. Recusaram a minha entrada no avião. Aparentemente, o certificado de vacinas do reino unido não era aceite, apesar de não ser essa a informação disponível no site oficial do governo português. Precisava de um teste. Mostrei-lhes o site, questionei: “eu quero perceber duas coisas. Em primeiro lugar, se há uma solução. Em segundo, olhando para estas informações, de que forma podia eu adivinhar uma informação contrária ao que está escrito”. A primeira mulher leu e deu-me razão. Chamou a chefe, que não me deu mais que palavras repetidas e insensibilidade. Discuti com ela com lágrimas de tristeza e raiva. Ela evitava os meus olhos. Voltei para casa e, às 9 da manhã, adormeci.
Acordei às 14:30. Recebi o telefonema da minha mãe. O avô tem danos em três órgãos, provavelmente cancro. Voltei a marcar voo para quinta-feira, às 6 da manhã, e teste para o dia anterior. Ele ligou-me. Estava com a voz arrastada. Mas continuava a ser ele. Enérgico, refilão, ternurento. Falámos um bocadinho. “O cansaço é muito, Rafael. Ficamos por aqui agora”. “Adeus, avô. Viajo na quinta. Beijinhos”. Nesse dia, escrevi: “Espero que ele volte a regar as suas plantas e que publique o livro que quis dedicar ao seu amor, minha avó.”
Os dois meses seguintes não vale a pena narrar, mas já não era meu amigo, nem meu treinador, nem meu mestre. Era meu avô. O meu avô. O meu avô que me levava todos os dias à escola primária, ficando a arranjar alcunhas para as mães das outras crianças. A “palhaça”, que estava cheia de maquilhagem. A “mulher que engole o fogo”, que era feia. Era esse. O meu avô. E o que restou, desses dois meses, mais do que a desgraça, foi a sua beleza. A beleza dos detalhes que acompanhou a decadência e o esvair da esperança. A primeira vez que cheguei ao hospital, senti uma injeção de alegria. Ele estava bem, com o sangue renovado, espevitado, alegre, a contar-me sobre as discussões que tivera com a colega de quarto, de quem “até as moscas fugiam”, e sobre como fazia ginástica, exemplificando com as pernas para o ar. “Aqui”, dizia enquanto dava palmadas na barriga, onde o tumor causava um inchaço, “ninguém toca. Dêem-me medicação e mandem-me embora”. Uma enfermeira, ao ouvir as palmadas, espreitou:
– Senhor Leonel, não pode estar a bater na barriga assim!
– Desculpe?! Não posso?! Pode dizer-me que não devo, agora poder, posso de certeza.
Na segunda vez que o fui ver, passada uma semana, a visita teve que ser interrompida a meio, por causa das dores. Depois disso, a “valsa lenta”, demasiado lenta, do adeus. Do hospital, sobrou essa beleza do amor retribuído por tantos. Havendo visitas diárias, havia fila de espera para o visitar. Pessoas marcavam com duas semanas de antecedência. Isso foi bonito. Os habituais – eu, a minha mãe, o meu pai e o Manel – habituávamo-nos á rotina. Fazer-lhe a barba, ouvi-lo reclamar – o que eu gostava, porque mostrava que mantinha a força –, dar-lhe de comer, partilhar as novidades políticas e futebolísticas. Também riamos. Era impossível, mesmo aí, não rir com o meu avô. Riamos sempre que alguém contava a sua visita. O professor Carlos, de quem falei antes, ouviu enquanto lhe dava comida, falhando em seguir as indicações: “Mas tu nunca deste de comer aos teus filhos?!”.
Passados dois meses, conseguiu vir para casa, onde passou a sua semana final. Mérito próprio. Foi tratado, como foi sempre, de forma especial. Em parte, graças à Clara e à Andreia, a quem nunca poderei agradecer o suficiente. Em parte, e principalmente, porque até doente deixou a sua marca desde o seu primeiro dia no hospital. Isso foi notório desde a minha primeira visita. Numa fila de visitantes, cada um dizia o nome do paciente, a enfermeira procurava na lista e dizia o número da cama. Quando eu disse “Leonel Coelho”, a cara dela alterou-se: “Ah, o Leonel…”, disse com cara de quem fala de uma criança problemática ao pai que a vai buscar ao infantário. “Cama 8”.
Como dizia, a ida para casa foi por mérito próprio. Contou-me outra enfermeira que ele lhe disse algo que ela “nunca esqueceu”:
– Senhora enfermeira, ouça uma coisa. Este hospital tem portas. Portas servem para sair e servem para entrar. Mas este hospital também tem janelas. E se não me deixarem sair pela porta, eu saio pela janela.
Tive a sorte de passar grande parte dessa semana com ele. Três dias antes de morrer, um dia antes de perder a fala, disse-me, a olhar-me nos olhos, sabendo que não aconteceria, mas querendo transmitir algo que eu, entendendo, não sei pôr em palavras:
– Temos que ir passear, Rafael.
Depois de passar a um estado entre o sono e a vigília, já sem praticamente comunicar, mas mantendo uma aparente capacidade de ouvir, eu disse-lhe:
– Temos que ir passear, avô.
Na sua penúltima noite, em que dormi, de porta aberta, na sala ao lado do quarto onde ele estava, antigo quarto de costura da minha avó, ele chamava-me de hora a hora. Eu sabia que era um chamamento porque, apesar de parecer não ver e de não falar já, os gemidos paravam quando eu chegava ao quarto e lhe dava a mão. Ele apertava. Eu cantava: “dorme, meu menino, em estrela d’Alva…”. Quando notava que ele adormecia, por a mão voltar a ficar relaxada, voltava para o sofá. Dormia até o ouvir chamar de novo. Voltava. Dava-lhe a mão. Ele apertava. Falava com ele. Parecendo-me ter ouvido, entre os murmúrios, a palavra mãe, e sabendo a possibilidade de o cérebro que se apaga viajar por memórias antigas, fingi sê-la: “está tudo bem, Neo. Podes descansar.”
Passadas pouco mais de vinte e quatro horas, descansou. Deu o suspiro final de mão dada com a filha, minha mãe.
Até o fim foi à Leonel Coelho. Em casa, rodeado de amigos e familiares. Velado no quarto, com casa cheia.
Nos dias que se seguiram, difíceis, mas não tão difíceis como os anteriores, percebi algo de cuja generalização ainda não estou certo: que o que nos faz chorar não é a tristeza, não sozinha. O choro é social. Pelo menos um certo tipo de choro. O que nos faz chorar é algo sem nome, uma espécie de junção entre a tristeza e o amor, a tragédia inerente à vida e a bondade inerente à relação entre pessoas que se querem bem. Não é a tristeza de estar num funeral, mas o abraço da pessoa certa na presença dessa tristeza. O ombro. O colo. O gesto bom no momento mau.
Um ano antes, no seu último aniversário, tinha-lhe escrito: “A maior parte das pessoas tem o azar de ser constantemente vítima de simpatia. Toda a gente as elogia, surgindo as críticas na sua ausência. Tu alcançaste algo muito mais grandioso: as críticas pela frente são tão constantes quanto os elogios por trás. Isso é talvez o mais que um Homem pode querer: ser constantemente confrontado com a sua sombra, deixar sempre a sua luz”.
Tê-lo como avô seria privilégio suficiente, e esse é só meu. Mas eu tive-o como muito mais que isso. Como amigo, treinador, mestre, exemplo, companheiro de viagens e aventuras. Eu e tanta gente em quem deixou a marca da sua unicidade.
Despedi-me, terminando com as palavras: “O meu último privilégio foi poder estar contigo nos teus últimos dias e dar-te a mão e a voz nas tuas últimas noites. Só aguento a tristeza porque a gratidão é muito maior. Obrigado, companheiro. Até sempre. Encontramo-nos nos meus gestos e histórias.”
Artigo escrito em Julho de 2022 para a Revista Sentir Alhos Vedros. Edição completa aqui.